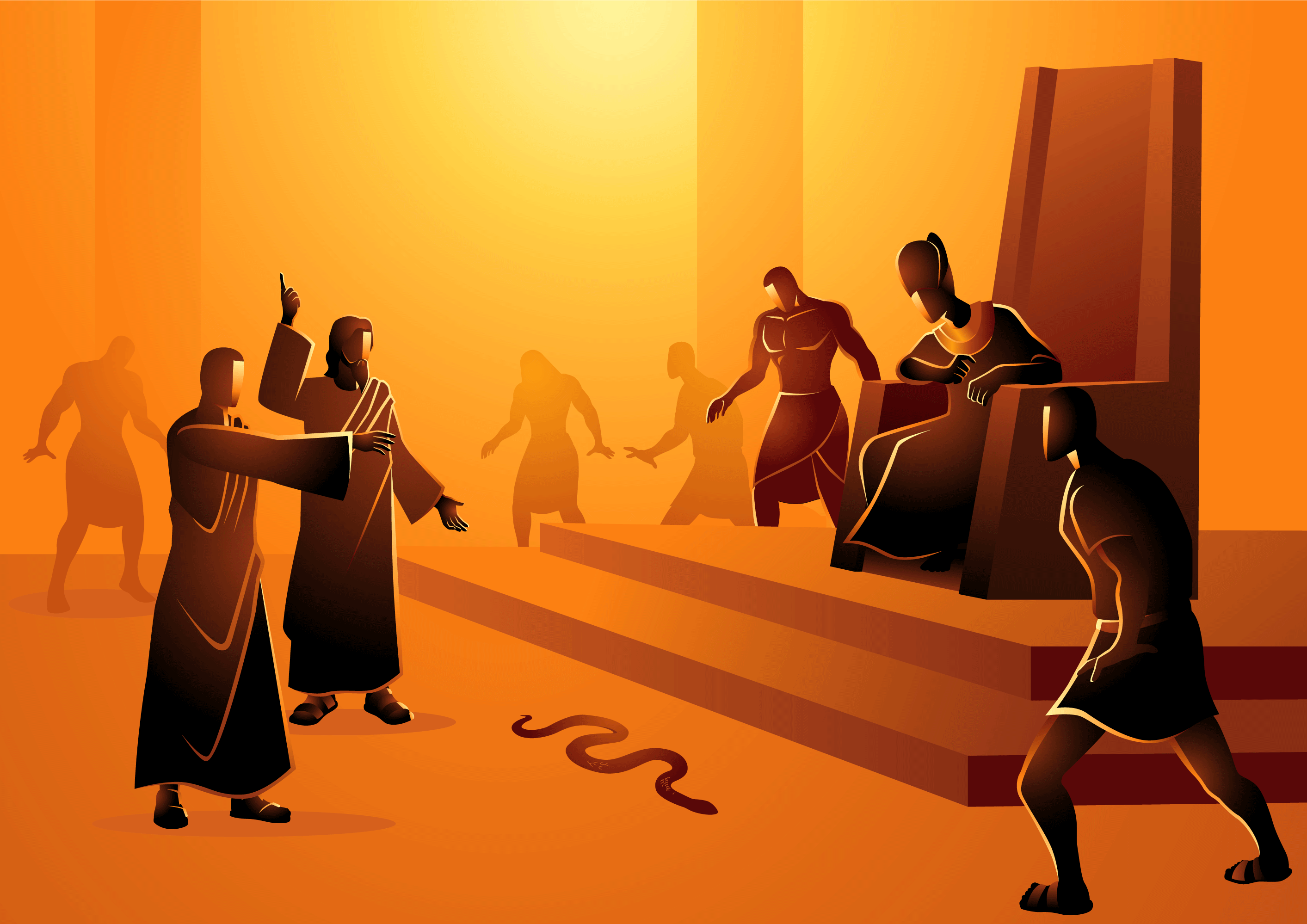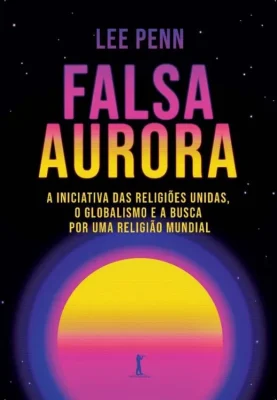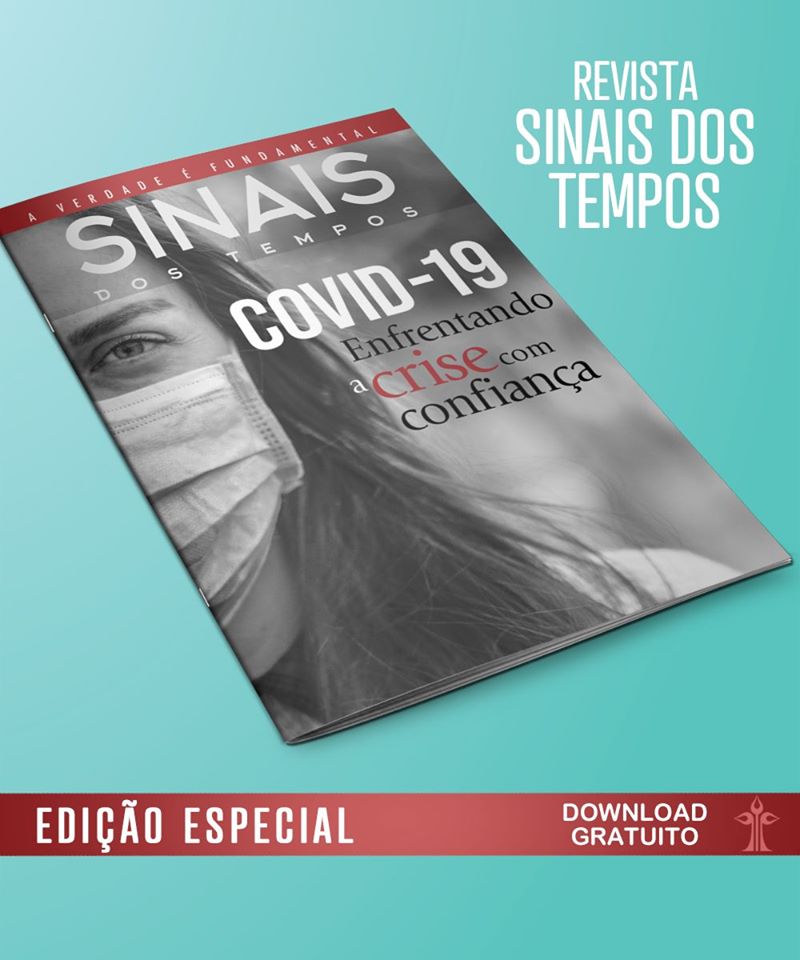O mundo atual vive um paradoxo: ao mesmo tempo, ele se distancia e se aproxima de Deus, e os próprios atores políticos que defendem a liberdade religiosa correm o risco de impor um padrão de religião que ameaça destruir essa liberdade. Ou seja, à medida que a sociedade se torna mais secularizada, ela se volta também para a religião, o que desperta uma tentativa autoritária de salvar os princípios da religião livre. Em tal contexto polarizado, tudo é politizado, inclusive a religião, que se mistura com o neonacionalismo e o populismo radical. Há uma estranha narrativa político-religiosa sendo escrita em nível mundial.
Com diversos tons e um raivoso discurso antiglobalista, o fenômeno “imprevisto” do novo nacionalismo afeta um grupo crescente de países do Ocidente e do Oriente, incluindo Áustria, China, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas, França, Hungria, Holanda, Índia, Indonésia, Inglaterra, Israel, Itália, Japão, México, Polônia, Rússia, Turquia e, claro, o Brasil. Os motivos que desencadeiam esse fenômeno são vários: crise econômica, imigração incontrolável, crescente desigualdade social, perda de valores morais, enfraquecimento das instituições tradicionais… No vácuo da incompetência, da insegurança e do medo, os populistas entram com seu discurso moralizante e hostil às elites, mas, longe de renovar a moral e beneficiar o povo, constroem uma nova ideologia e substituem uma elite por outra.
Se o patriotismo cívico é saudável, o nacionalismo fanático e ideológico pode se tornar sanguinário. Alguns dos piores crimes da história foram cometidos em nome da nação, inclusive a morte de Cristo (Jo 11:50). O nacionalismo do século 19 parecia inocente, mas se tornou um monstro genocida na primeira metade do século 20. Em uma entrevista ao jornal La Stampa publicada no dia 9 de agosto, o próprio papa Francisco, preocupado com o nacionalismo, reclamou: “Ouvimos discursos que lembram os de Hitler em 1934.” A religião cívica parece inofensiva, mas pode se transformar em uma fera perseguidora.
Nesse cenário, torna-se perceptível a silhueta da Igreja cortejando o Estado, ou vice-versa. Alguns países simplesmente intensificaram a relação já existente entre política e religião, enquanto outros buscam uma espécie de detox do ópio (anti)religioso representado pela ideologia que dominou boa parte do mundo nas últimas décadas. A reação pendular aos males causados pelo esquerdismo trouxe de volta um direitismo que, em longo prazo, pode causar males igualmente nefastos. O problema não é a interação amistosa entre religião e política, e sim a instrumentalização da religião para promover o radicalismo ideológico. O risco da mistura entre política e religião é politizar a religião e “religionizar” a política, o que é ruim para ambas.
O caso mais típico nessa linha é a realidade norte-americana, em que Donald Trump, um presidente improvável que percebeu os novos gostos políticos e usou amplamente as mídias sociais, foi saudado como uma espécie de “messias” pelos evangélicos. Não por acaso, ele recebeu o apoio de mais de 80% dos evangélicos brancos na eleição de 2016, apesar de mostrar comportamentos pouco afins ao evangelho. Uma pesquisa realizada em agosto do ano passado pela Associated Press em conjunto com o NORC Center for Public Affairs Research revelou que sete em cada dez evangélicos brancos do país apoiam o presidente.
Esses religiosos engajados na política se esquecem de que, para merecer respeito e ter sua voz realmente ouvida, eles precisam ter uma religião acima dos partidos políticos. Até porque vários estudos têm demonstrado que a afiliação política acaba influenciando as próprias escolhas religiosas, como argumenta Michele Margolis em seu recente livro From Politics to the Pews (The University of Chicago Press, 2018). Em outras palavras, não é só a religião que afeta a política; uma identidade partidária forte tem efeitos religiosos.
Para não ficar somente no caso dos Estados Unidos, vale fazer uma breve menção ao Oriente Médio. Se em muitos países é a economia que move a política, nos territórios do Oriente Médio é a religião que ainda manda. Em Israel, na Turquia e na maioria dos países da região, o pertencer à religião e o viver no território nacional se misturam, e o Estado faz parte do coração da identidade religiosa, conferindo significado e coesão social. A redefinição da religião pela nação-estado, ou às vezes a definição do estado-nação pela religião, faz surgir um nacionalismo religioso e uma homogeneização religiosa, ao contrário da Europa e da América, onde a separação entre Igreja e Estado possibilitou o pluralismo religioso.
Conforme Jocelyne Cesari explica no artigo “Unexpected Convergences: Religious Nationalism in Israel and Turkey”, publicado na revista Religions em 2018, as instituições políticas desses países não somente se apropriam da religião e a instrumentalizam, mas a “redefinem como parte da nova ordem social e política”. Para ela, “o nacionalismo religioso não é simplesmente o uso do islamismo ou do judaísmo para o controle político pelo Estado, mas, em vez disso, é um traço da nova psiquê dos cidadãos sob a nova ordem política, incorporado em comportamentos automáticos inculcados desde a infância”. Enfim, o aparato do Estado se encarrega de transformar o país em religião, ou a religião em nacionalidade.
O PERIGO DO AUTORITARISMO
Alguém pode argumentar que a religião e a política nunca estiveram realmente separadas, o que é verdade. Em alguma parte do mundo, em qualquer fase da história, as duas sempre caminharam juntas. Desde o momento em que o imperador Constantino supostamente viu no céu o sinal da cruz, acompanhado da inscrição “com este sinal vencerás”, e se ajoelhou em oração antes da batalha da ponte Mílvia sobre o rio Tibre, em outubro de 312, o mundo ocidental sempre teve que lidar com a tentação de unir religião e política. Ao comentar esse acontecimento, num capítulo do livro Politics, Religion and Political Theology (Springer, 2017), Michael Allen Gillespie escreveu: “De várias maneiras, desde aquela época, papas e imperadores, reis e cardeais, reformadores e príncipes, grupos confessionais e parlamentos têm lutado para encontrar maneiras de coexistir.”
Mesmo nos Estados Unidos, onde há uma separação constitucional entre Igreja e Estado, uma invenção tipicamente americana, uma vez que na Europa a relação Igreja-Estado era vista como algo natural, sempre houve uma mistura de interesses nas duas esferas. Embora “Deus” e o termo “divino” não apareçam explicitamente na constituição do país, tanto um quanto o outro são mencionados pelo menos uma vez em cada constituição dos 50 estados norte-americanos, num total de quase 200 menções, segundo um levantamento do Pew Research Center. Algumas constituições se referem ao “Criador”, “Senhor”, “Todo-Poderoso”, “Ser Supremo” e “Supremo Governante do Universo”. E sete estados (Maryland e outros seis) proíbem os ateus de exercerem cargos públicos, embora a lei não venha sendo aplicada, por temor de ferir a carta magna. Em Maryland (“Terra de Maria”), a crença em Deus ainda é um requisito até para testemunhas.
No prefácio do livro God’s Democracy (Praeger, 2008), o historiador italiano Emilio Gentile escreveu: “Todos os presidentes dos Estados Unidos, desde os tempos do primeiro presidente, George Washington, terminaram seu discurso inaugural pedindo que Deus abençoasse a América, e nenhum presidente deixou de mencionar, pelo menos uma vez, sua fé no Deus Todo-Poderoso, na origem divina da democracia americana e na missão providencial da nação. O presidente americano é não apenas o líder político da nação, mas também o pontífice de sua religião civil.” Assim, o governo é visto como o protetor legal da liberdade religiosa, enquanto os políticos usam a religião e os religiosos usam a política para alcançar seus fins.
Que a mistura de religião e política está crescendo no mundo está bastante claro. A novidade é a intensidade dessa relação. Destacados atores (países) no teatro político estão indo na mesma direção ao mesmo tempo, e normalmente com virulência. Resultado? Assim como (e)ventos políticos decisivos do passado instigaram movimentos semelhantes em outras paisagens, a exemplo da Revolução Francesa, do fascismo e do comunismo, a guinada político-religiosa do momento também tem o poder de facilitar outros experimentos na mesma direção. Embora seja difícil prever se esse ciclo direitista será longo, o alinhamento em escala global pode representar risco.
No caso dos Estados Unidos, o ataque terrorista de 2001 claramente representou um momento apocalíptico na história mundial recente e motivou uma guinada na política da maior nação do planeta. A fragilidade do poderoso império despertou seu ímpeto contra as ideologias ameaçadoras. “O trauma que os americanos sofreram na tragédia de 11 de setembro foi não somente psicológico, existencial e político, mas, para os crentes, também religioso”, avalia Gentile. Para a população altamente religiosa dos Estados Unidos, o impacto foi enorme. Como poderiam os representantes de uma fé radical diferente humilhar a nação escolhida? Teria Deus abandonado a América? O que fazer para conter a religião rival? A estratégia foi a aproximação da ala mais fundamentalista do cristianismo americano com o segmento mais conservador da política de Washington, dando origem ao novo americanismo.


CHOQUE DE RELIGIÕES
Na visão profética adventista, os Estados Unidos vão liderar o alinhamento político-religioso de boa parte do globo no fim dos tempos, perseguindo os dissidentes (Ap 13:15-17). Para isso, terá que mudar sua retórica e abandonar sua ideologia da liberdade, pelo menos na prática. A nação posará de cordeiro, símbolo de Cristo, mas agirá como dragão, símbolo de Satanás (Ap 13:11). A lei humana será honrada acima da lei divina, e o resultado será o caos.
Ellen White, pioneira inspirada do movimento adventista, tinha uma preocupação com a interface entre religião e política no contexto americano, prevendo que a religião controlará a política, criando um monstro feroz. “A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins”, ela escreveu (O Grande Conflito, p. 443).
Logo à frente, ela completa: “Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável” (p. 445). Embora tanto a direita quanto a esquerda possam ser cooptadas pelo mal e se transformar em “bestas”, aqui o perigo vem da extrema direita religiosa, que existe desde o início do século 19, mas ganhou influência nas últimas décadas.
Na verdade, a nação norte-americana já vive um paradoxo: ao se ver na obrigação de defender o mito de que o país é o paradigma da liberdade religiosa, acaba se posicionando como a guardiã global da religião livre e forçando um conformismo ao seu padrão. Assim, a religião passa a ser um elemento definidor por excelência de quem é amigo e digno de confiança. No livro Beyond Religious Freedom (Princeton University Press, 2015), Elizabeth Shakman Hurd discorre sobre esse tema e afirma: “O discurso da liberdade religiosa descreve e legalmente define indivíduos e grupos em termos religiosos ou sectários e não com base em outras afinidades e relações – como, por exemplo, afinidades políticas, laços históricos ou geográficos, vizinhança ou afiliações ocupacionais, redes de parentesco, vínculos geracionais ou fatores socioeconômicos. Ao posicionar a religião como prioritária em relação a essas identidades e afiliações, o modelo dos direitos religiosos aumenta a importância sociopolítica do que as autoridades nacionais ou internacionais designam como religião.” Assim, o critério para julgar alguém é o religioso, a chamada “ecologia de afiliação”.
No fim, o que vai desencadear a fúria imperial norte-americana contra os dissidentes? Um conjunto de fatores, mas com destaque para a religião que não se alinhar com a ideologia político-religiosa dominante. De acordo com a controvertida tese de Samuel Huntington a respeito do “choque de civilizações”, as diferenças mais importantes entre os povos no mundo pós-guerra fria não mais são “ideológicas, políticas nem econômicas”, mas culturais. E a chave para definir o elemento cultural seria a religião. Em grande medida, ele argumentou em The Clash of Civilizations (Touchstone, 1996), “as principais civilizações da história humana têm sido intimamente identificadas com as grandes religiões do mundo; e pessoas que compartilham etnia e linguagem mas diferem em religião podem massacrar umas às outras”. No caso, haverá um choque de religiões. A percepção do risco de descristianização da América e a ameaça de islamização do mundo são elementos importantes nessa trajetória profética. O processo pode ser longo, com idas e vindas, mas chegará aonde a profecia sinaliza.
A ligação entre religião e política ou Igreja e Estado nunca termina bem. Não importa se o Estado é de direita ou esquerda, em algum momento ele se tornará Leviatã, o monstro imperial que age como soberano absoluto. A metáfora do Leviatã como um governo central que concentra todo o poder em torno de si e controla as decisões da sociedade, a fim de evitar o caos social ou situações chamadas de “estado de natureza”, é associada ao livro homônimo de Thomas Hobbes lançado em 1651. Porém, o simbolismo do verdadeiro Leviatã vem da Bíblia. Os monstros ou bestas de Apocalipse 13 são poderes político-religiosos cooptados pelo dragão (Satanás) para promover sua agenda de intimidação e perseguição. O objetivo é desviar o foco da adoração de Deus para si mesmo. Portanto, a política local ganha uma dimensão maior ao ser vista como um estágio na geopolítica cósmica.
Em síntese, o mundo político-religioso está mudando. A ideia de que a religião desapareceria do mapa diante das forças modernistas era compartilhada por grandes pensadores sociais do século 19. Hoje, eles perceberiam a complexidade da sociedade e explicariam as coisas de maneira diferente. A aproximação entre religião e política no momento pode ser apenas a soma de coincidências sociopolíticas, mas pode também ser a acentuação de um movimento global com futuras implicações proféticas. Sem sensacionalismo e apavoramento, os cristãos conscientes observam os acontecimentos e mantêm a esperança de que, depois do caos político-religioso, virá um reino de paz.
MARCOS DE BENEDICTO, pastor, jornalista e doutor em Ministério, é redator-chefe da Casa Publicadora Brasileira